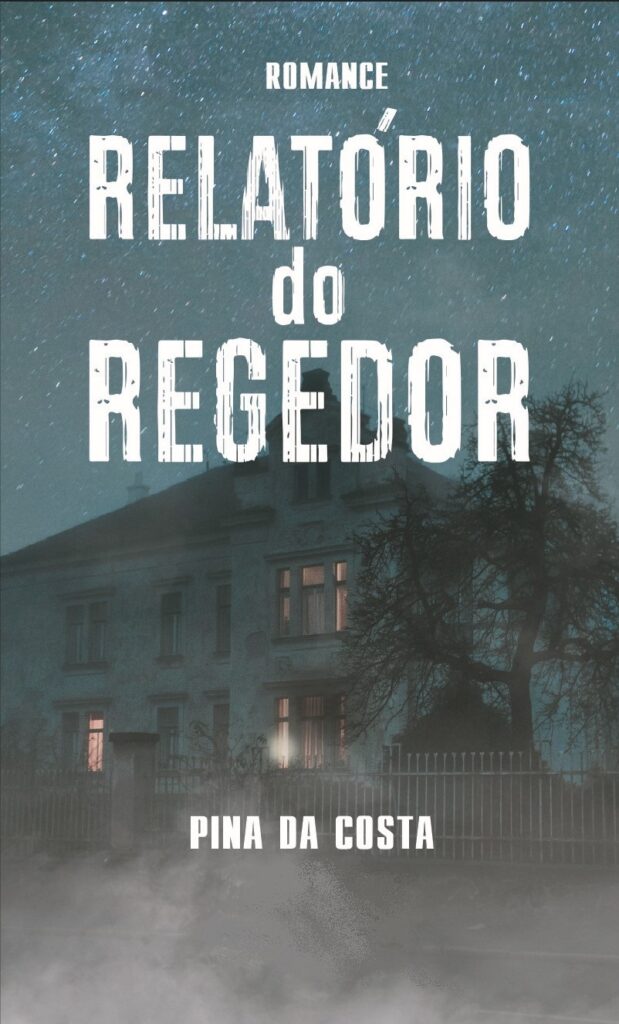
Sinopse
Que a casa do meu avô paterno era morada por espíritos esquecidos de partir e que nos esconsos do sótão se resguardavam diminutos caixões, era dito vezado da minha infância. Dizeres de maledicências ociosas, desmentia minha mãe. Em tempos de partilhas da herança, eis que surge no espólio do avô um intrigante atado de folhas singelamente redigido em incertas letras de escola primária, descoloradas pelo tempo. Entre outros estranhos relatos, lá aparece a referência sem detalhes nem explicações ao aparecimento de esqueletos de criança na loja das tulhas do casarão. O edifício fora mandado construir por um antigo pároco, o padre Zé, que eu apenas conhecia por suspeitosas referências de Aquilino Ribeiro em algumas das suas obras. A aura que deixou, o estranho achado das ossadas… levaram-me a perseguir os segredos escondidos por detrás deste enigmático personagem e da sua antiga habitação que acabou pertença da família.
Características: 256 páginas. 69 850 palavras.
NOTA:
1ª edição esgotada na Editora e no mercado. Exemplares remanescentes de reimpressão poderão, ainda, ser adquiridos neste sítio ou na papelaria Condes em Abrantes.
Capítulo 1
Havia decorrido um penoso e triste mês de luto após o falecimento de meu avô paterno. Se um grande pesar ainda enleava a família por pessoa tão estimada, já o nojo social se considerava cumprido sem o risco da usual recriminação de estarem “esfaimados pela herança” ser lançada pelos invejosos dizeres que costumam percorrer a aldeia em quejandas situações.
As partilhas começaram a ser assumidas e formalizadas, e o casarão patriarcal a ser esvaziado de móveis e memórias.
‒ Há para lá umas gavetas com papéis… tu, como és estudado, vai lá amanhã ver se algum tem interesse e merece arquivo ‒ determina meu pai, certo fim de tarde, após mais um dia de avaliações e divisões.
“Ter filho estudado” era ponto de grande entono para o aldeão; e meu pai, ufano, tinha o informe sempre à mão para o deixar cair aqui e ali a pretexto de tudo e de nada.
Fazer filho doutor exigia ao montesino grandes sacrifícios e investimento multiplicado, não raro impondo a venda de leira grada ou derribar pinhal em idade de resinar.
Era, porém, a par da ida para o Brasil, expressão maior do inconformismo contra uma vida sem horizontes, feita de labutas infindas, onde a miséria estava sempre à espreita em cada intempérie que arrasasse as colheitas, moléstia que dizimasse o gado ou enfermidade que tolhesse para o trabalho.
A mesa, com as gavetas em questão, era uma antiguidade de castanho, carunchosa e desmazelada, mas com robustez bastante para servir mais uma geração se tal fosse esse o intento do herdeiro a quem coubesse em sorte.
Os dois gavetões abarrotavam de papéis e pequenos objetos; chaves, moedas, velhas canetas, andavam perdidos no meio daquela papelada toda.
Logo à primeira impressão ressumava a inutilidade e desinteresse da maioria dos papéis engavetados. Ainda assim, observei papel a papel não fosse folha solta, de alguma significância, encontrar-se misturada com almanaques, seringadores, documentos de quitação, contas… E, de facto, havia por lá escrituras em forma de lei e outras que testemunhavam simples tratos entre vizinhos, mas de validade reconhecida na aldeia onde a palavra ainda tinha honra.
Um atado de folhas, em particular, cativou a minha atenção.
Se não aparentava ter qualquer interesse para os herdeiros, como confirmei mais tarde, já em mim instigou estranheza e curiosidade. Não num primeiro momento em que o seu mau estado, quase ilegível, me levou a descartá-lo, sem mais. Todavia, o facto de serem folhas de papel azul de trinta e cinco linhas conferia habitual importância e formalidade ao escrito.
Era um caderno de folhas presas com trincafio de sapateiro e os furos com aparência de terem sido feitos à sovela. Pelo término abruto e deixando uma frase a meio, deviam faltar algumas páginas no final; certamente por essa razão, não apresentava assinatura nem datação.
Uma mancha de gordura medalhava irregularmente as primeiras páginas. A tinta, decerto de preço módico como a utilizada na escola das primeiras letras, deveria ter sido azul, mas agora não passava de um borratado filamento róseo, quase impercetível.
A escrita era irregular e incerta denotando uma escolaridade mal cumprida ou há muito esquecida.
Hesitava se o degradado documento merecia um moroso trabalho de decifragem, quando julgo descobrir, no desmaiado borrão de tinta da folha que capeava o caderno, a palavra Regedor. Nesta página, aparentemente, apenas constava o título constituído por duas ou três palavras, redigido naquela letra maiúscula amaneirada, repleta de serifas dos primeiros anos de escola. Perdida, bem ao fundo da página, mal se percebe a palavra “cópia”, entre parênteses. No corpo do documento encontrei por diversas vezes o termo relatório; deduzi com isso, mas sem grandes certezas, que a capa seria Relatório do Regedor (cópia).
Não tinha conhecimento que o avô alguma vez tivesse sido Regedor, o que foi prontamente confirmado por uma tia que concluía a desocupação dos móveis da sala.
Que fazia ali, então, o relatório de um Regedor? Provavelmente, resposta a alguma queixa contra furto ou outro pequeno desmando, pensei, numa vaga tentativa de explicação do documento, embora o número de páginas indiciasse assunto com mais detença e importe.
Coloquei o caderno à parte para posterior análise, sem lhe ver enquadramento em qualquer dos montículos que havia formado: papéis sem evidente interesse, um pequeno lote de documentos a que reportei alguma utilidade e mereceriam decisão final do meu pai, por fim, os mais relevantes: registos de propriedade e contratos de renda.
E lá continuei a triagem, passando à segunda gaveta quase totalmente repleta de estampas de santos e sumárias brochuras religiosas.
A um canto, anichava-se um pequeno maço de cartas cuidadosamente enlaçadas por uma fina fita de seda azul-bebé. Sem saber o que fazer às cartas, rapidamente identificadas pelo remetente do subscrito como sendo do tio António, juntei-as ao relatório para mais tarde consultar meu pai sobre o destino a dar-lhes.
Regressado da casa do avô, coloco o relatório e as cartas em cima de um louceiro da sala e sento-me no patim a ler um livro, gastando tempo até à hora de almoço que não tardaria.
A refeição do meio-dia ia perdendo a sua designação centenar de jantar para dar lugar à moda trazida da cidade de se chamar almoço: o aldeão ainda lhe chamava jantar, mas nós, os civilizados, já a rotulávamos de almoço. Verdade que, mesmo no campo, com o crescente desuso de se trabalhar de sol a sol, deixava de haver sustentação para uma refeição a meio da manhã, o almoço; este apressou-se a usurpar o lugar ao jantar que, por sua vez, se apropria do tempo da ceia.
Passada a canícula da sesta, retomo os meus rotineiros passeios, procurando recanto fresco junto a curso de água, debaixo de umbrosa árvore, lá para as bandas da Lameirancha, sem mais me lembrar daqueles documentos deixados no móvel da sala.
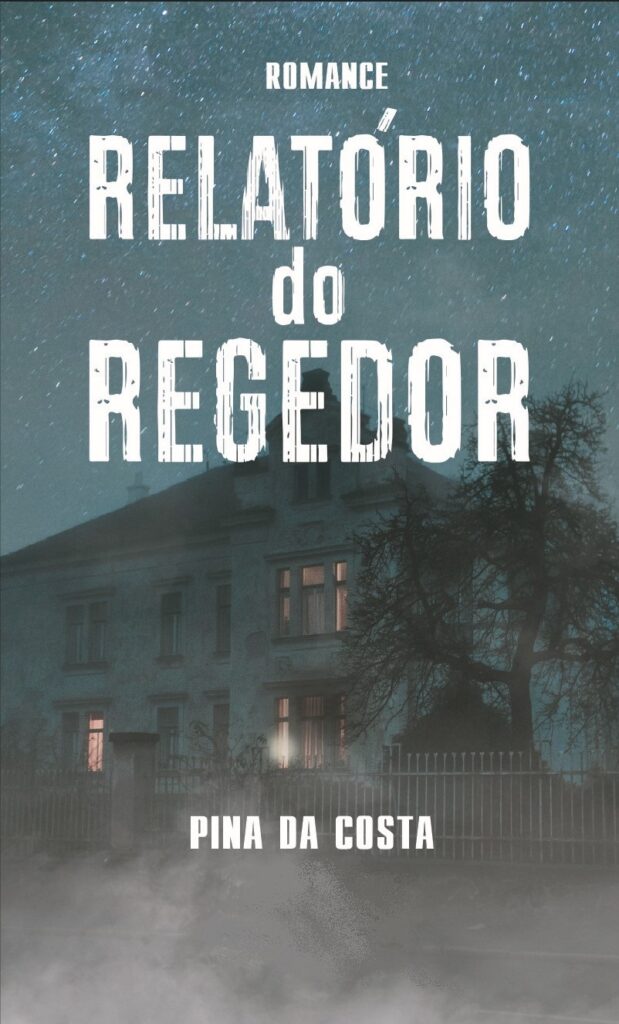
Deixe um comentário